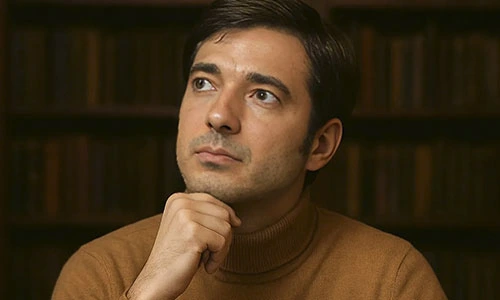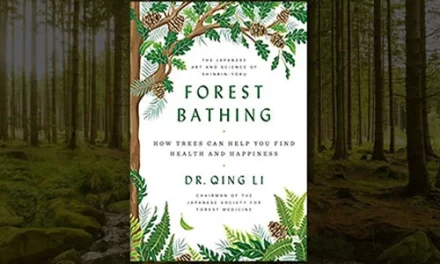Adultização: Infância em risco no século XXI
Por : Estevan Matheus
A infância é uma fase essencial do desenvolvimento humano, marcada por aprendizagens, vínculos afetivos, ludicidade e proteção. No entanto, diversas realidades sociais têm interrompido esse percurso, impondo precocemente responsabilidades e expectativas que deveriam ser exclusivas da vida adulta. Tal fenômeno é conhecido como adultização infantil , uma forma de violência simbólica e material que afeta de maneira estrutural a trajetória de crianças, especialmente em contextos de guerra, pobreza e, mais recentemente, nas plataformas digitais.
Segundo Kalamar e Castilhos (2020), a adultização infantil refere-se à antecipação forçada de papéis sociais e emocionais em crianças ainda em desenvolvimento, sendo um fenômeno marcado pela negação do direito à infância.
No Brasil e em diversos países, essa realidade se intensifica em ambientes de vulnerabilidade estrutural. Além disso, novas formas de exposição midiática, como YouTube, TikTok e Instagram, vêm colocando a criança no centro de um sistema de monetização que compromete sua autonomia e saúde psíquica.
Este ensaio analisa criticamente as diferentes dimensões da adultização infantil, investigando suas causas e consequências nas esferas da pobreza, da guerra e das redes sociais. Busca-se compreender como essas dinâmicas comprometem não apenas o bem-estar imediato das crianças, mas geram impactos intergeracionais que perpetuam desigualdades e fragilidades sociais.
A adultização infantil pode ser definida como o processo no qual a criança é forçada a assumir comportamentos, responsabilidades ou aparências adultas antes do tempo adequado, tanto por imposições externas quanto por contextos de negligência ou exploração (KALAMAR; CASTILHOS, 2020, p. 176). Trata-se de um fenômeno que perpassa dimensões culturais, econômicas, midiáticas e afetivas.
Kramer (2006) destaca que a criança deve ser reconhecida como sujeito de direitos e não como um adulto em miniatura. A negação dessa especificidade, seja pela imposição do trabalho precoce, da sexualização, da exposição pública ou da cobrança por resultados escolares ,constitui uma violação simbólica e prática da infância. Essa ruptura compromete processos fundamentais de socialização, ludicidade, formação da identidade e estruturação psíquica.
A pobreza é um dos principais vetores da adultização infantil. Crianças em situação de vulnerabilidade socioeconômica frequentemente assumem responsabilidades de adultos para garantir a sobrevivência familiar. Dados do UNICEF (2018) apontam que 61% das crianças e adolescentes brasileiros viviam em situação de pobreza ou privações múltiplas em 2015. Em muitos casos, meninos e meninas abandonam a escola para trabalhar, cuidar de irmãos ou enfrentar sozinhos o cotidiano de ruas e favelas.
Arroyo (2010) argumenta que a pobreza infantil deve ser entendida não apenas como carência material, mas como violação estrutural de direitos humanos. Nesse contexto, o trabalho precoce, longe de representar amadurecimento, impede a criança de vivenciar plenamente sua infância e perpetua ciclos de exclusão social.
Estudos de neurociência e psicologia do desenvolvimento, como os de Murray (2012), demonstram que a exposição precoce ao estresse, insegurança alimentar e violência doméstica afeta diretamente o desenvolvimento cognitivo, emocional e físico das crianças, com consequências na vida adulta, como dificuldades de concentração, ansiedade crônica, depressão e baixa autoestima.
Em zonas de guerra, a adultização assume proporções ainda mais dramáticas. Crianças são privadas de lares, escolas, famílias e segurança. São forçadas a migrar, a lutar, ou a testemunhar violência extrema. Betancourt (2017) identifica fortes correlações entre experiências infantis em cenários de guerra e distúrbios de estresse pós-traumático, comprometimento afetivo e isolamento social na fase adulta.
No Brasil, embora não se vivencie guerra formal, a realidade das periferias urbanas militarizadas, favelas sob controle de milícias e traficantes, recriam condições semelhantes. Conforme estudo de Assis e Constantino (2005), muitas crianças tornam-se responsáveis por proteger seus irmãos, administrar os recursos do lar ou mesmo atuar em economias ilícitas.
A pesquisa de Braun e Stuhler (2023), que analisou efeitos da exposição à guerra ao longo do ciclo de vida, concluiu que essas experiências reduzem significativamente a inserção produtiva, o acúmulo de capital humano e a estabilidade familiar, o que reforça os impactos intergeracionais da adultização forçada.
Nos últimos anos, uma nova camada de adultização emergiu com a ascensão das mídias sociais e da cultura da performance digital. Crianças transformadas em influenciadoras mirins geram conteúdo altamente lucrativo em plataformas como YouTube e TikTok, frequentemente com envolvimento direto ou indireto de familiares e empresas.
Essa exposição precoce coloca a criança sob a lógica da audiência, da validação pública e da monetização da imagem. Segundo o relatório do Comitê Alana (2022), a presença de crianças nas redes sociais é massiva, e muitas delas são expostas de forma sistemática sem regulamentação adequada.
A pesquisa TIC Kids Online Brasil (CETIC.br, 2023) mostra que 39% das crianças entre 9 e 17 anos já produziram vídeos para redes sociais, e muitas relatam sentir pressão para manter frequência, aparência e engajamento.
Além disso, o modelo algorítmico das plataformas digitais privilegia conteúdos que geram mais cliques e tempo de tela, favorecendo o sensacionalismo e a exposição emocional — o que acarreta riscos como ansiedade, distorção da autoimagem, dependência digital e aceleração de comportamentos adultos (UNESCO, 2021).
As repercussões da adultização infantil são profundas e duradouras. Na vida adulta, indivíduos que não tiveram infância plena tendem a apresentar:
Comprometimento da saúde mental: aumento dos índices de ansiedade, depressão, transtornos de personalidade e baixa autoestima (BETANCOURT, 2017);
Fragilidade na inserção social e profissional: devido à evasão escolar e à falta de oportunidades, há dificuldade em romper com o ciclo da pobreza (ARROYO, 2010);
Dificuldade de exercer parentalidade responsável: muitas vezes, adultos que foram adultizados precocemente reproduzem padrões de negligência, abuso ou ausência emocional (RIZZINI; PILOTTI, 2009).
Essas consequências não se limitam ao indivíduo. Geram um impacto intergeracional, afetando também a estrutura familiar, comunitária e social. A adultização compromete o direito à infância, mas também o direito à cidadania plena e à dignidade humana.
Considerações finais: por uma infância protegida, livre e presente
A adultização infantil é uma violação sistemática dos direitos da criança. Ela se manifesta sob diferentes formas — pela pobreza, pela guerra e, agora, pela economia da atenção nas plataformas digitais. Cada uma dessas faces rouba das crianças aquilo que lhes é de direito: o tempo de brincar, de aprender com leveza, de errar sem punição, de crescer com segurança e afeto.
É urgente a construção de políticas públicas intersetoriais que garantam proteção integral à infância, com ações articuladas nas áreas de saúde, educação, assistência social, cultura e justiça. Isso inclui:
A criação de legislações mais rigorosas sobre a exposição infantil em redes sociais;
A ampliação do acesso à educação em tempo integral e ao lazer seguro;
O investimento em programas de apoio psicossocial para crianças em situação de vulnerabilidade extrema;
A responsabilização de empresas e plataformas digitais pelo uso indevido da imagem infantil.
Como aponta a ONU (2022), garantir o direito à infância é condição básica para a construção de sociedades justas, resilientes e democráticas. Proteger nossas crianças é proteger nosso futuro.
Referências Bibliográficas
ALANA. Comitê Criança e Consumo. Criança Influencer e Publicidade Infantil: riscos e omissões da legislação brasileira. São Paulo: Instituto Alana, 2022. Disponível em: https://criancaeconsumo.org.br. Acesso em: 18 ago. 2025.
ARROYO, Miguel. Infância, pobreza e educação. Belo Horizonte: Autêntica, 2010.
ASSIS, Simone G.; CONSTANTINO, Patrícia. Crianças em situação de violência urbana: um estudo sobre o Rio de Janeiro. Ciência & Saúde Coletiva, v. 10, n. 2, p. 293-307, 2005. Disponível em: https://www.scielo.br/j/csc/. Acesso em: 18 ago. 2025.
BETANCOURT, Theresa S. Child development in the context of war, poverty and displacement. Child Development Perspectives, v. 11, n. 4, p. 191-196, 2017.
Estevan Matheus
CRP 06/72871
- Graduado em Psicologia – Universidade Paulista
- Pós Graduado em Tcc ( Terapia Cognitiva comportamental ) – Universidade Anhanguera
- Graduando em Gestão de Crises e Conflitos Organizacionais – Universidade Anhanguera